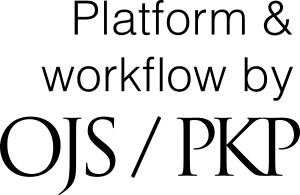Interpretes do passado e do presente: a arte de historiadores da educação e arquivistas
DOI:
https://doi.org/10.21680/2596-0113.2020v3n0ID20951Palavras-chave:
Keywords: Historiography, History of Education, Archives, MaterialityResumo
Conferir sentido aos tempos pretéritos não é uma tarefa exclusiva de historiadores. É um ato constitutivo das artes de escritores, curadores de exposições, diretores de documentários, roteiristas e cenógrafos, reencenadores. Mas não apenas, é também um elemento integrante da prática de historiadores da educação e arquivistas, de sujeitos que ao longo da vida colecionam registros, do exercício da educação patrimonial por parte de professores e de organizadores de museus escolares. Circunscrevendo a discussão ao ofício de historiadores da educação e arquivistas, estruturamos o artigo em duas partes. A primeira parte se concentra na narrativa historiográfica em educação, tomando um exemplo da história brasileira da educação. A segunda trata de algumas das dimensões presentes nos atos de arquivamento, concentrando-se particularmente na materialidade dos documentos.
Downloads
Referências
Bloch, M. (2001). Apologia à história ou o ofício do historiador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar.
Burke, P. (2001). New Perspectives on Historical Writing. Cambridge: Polity Press.
Carvalho, M.; Vidal, D. (2001). Mulheres e Magistério Primário: tensões, ambiguidades e deslocamentos. In: M.L. Hilsdorf, D. Vidal (eds.). Brasil 500 anos: tópicas em História da Educação (pp. 205-224). São Paulo: EDUSP.
Castells, M. (2006). A Sociedade em Rede: do conhecimento à política. In: G.Cardoso, M.Castells (eds.). A Sociedade em Rede: do conhecimento à acção política (pp. 17-30). Belém (Portugal): Imprensa Nacional.
Catani, D. B., Faria Filho, L. M. (2002). Um lugar de produção e a produção de um lugar: a história e a historiografia divulgadas no GT História da Educação da ANPEd (1985-2000). Revista Brasileira de Educação, 19: 113-128.
Chalhoub, S. (1990). Visões da liberdade: uma história das últimas décadas da escravidão na Corte. São Paulo: Companhia das Letras.
Coleção de leis do Império do Brasil. In <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao24.htm>. (ultima consultazione: 07/02/2020).
Darnton, R (1999). The Great Cat Massacre and Other Episodes in French Cultural History. New York: Basic Books.
De Certeau, M. (1988). The Writing of History. New York: Columbia University Press.
Farge, A. (1989). Le gout de l’archive. Paris: Ed. Seuil.
Foucault, M. (1975). Vigiar e punir: o nascimento da prisão. Petrópolis: Vozes.
Foucault, M. 2012). Du gouvernement des vivants. Paris: EHESS.
Genovese, E.; Roll, J. Roll: The World the Slaves Made. New York, Pantheon Books.
Le Goff, J. (1984). "Memória". In: Enciclopédia Einaudi, vol. 1, História-Memória. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, p. 11-50.
Moraes, F. (2015). O processo de escolarização pública na Vila de Cotia no contexto cultural caipira (1870-1885). Dissertação de mestrado – Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo.
Nora, P. (1993). "Entre memória e história: a problemática dos lugares". Projeto História. São Paulo (10): 7-28, dez.
Pimenta, R. (2017). Nosso futuro em um post. Cultura da velocidade, big data e o novo desafio do “peixe” para os historiadores da era digital. Revista Transversos, 11:9-22.
Schueler, A. (2002). Formas e Culturas Escolares na Cidade do Rio de Janeiro: representações, experiências e profissionalização docente em escolas públicas primárias (1870-1890). Tese (Doutorado), UFF, Niterói.
Schwarcz, L. (1987). Retrato em branco e negro: jornais, escravos e cidadãos em São Paulo no fim do século XIX. São Paulo: Companhia das Letras.
Scott, R. (1985). Slave Emancipation In Cuba: The Transition to Free Labor, 1860–1899. University of Pittsburgh Press.
Silva, A. M. P. da. (2000). Aprender com perfeição e sem coação: uma escola para meninos pretos e pardos na Corte. Brasília: Editora Plano.
Silva, A. M. P. da. (2007). Processos de construção das práticas de escolarização em Pernambuco, em fins do século XVIII e primeira metade do século XIX. Recife: Editora Universitária UFPE.
Slenes, R (1999). Na Senzala uma Flor: Esperanças na Formação da Família Escrava. Brasil Sudeste, século XIX. Rio de Janeiro: Nova Fronteira.
Vidal, D. (2008). “Mapas de frequência a escolas de primeiras letras: fontes para uma história da escolarização e do trabalho docente em São Paulo na primeira metade do século XIX.” Revista Brasileira de História da Educação, Maringá, v. 17, p.41-67.
Warnier, J. (1999). Construire la culture matérielle. L’homme qui pensait avec ses doigts. Paris: Presses Universitaires de France.
Downloads
Publicado
Como Citar
Edição
Seção
Licença
Autores que publicam nesta revista concordam com os seguintes termos:
Autores mantém os direitos autorais e concedem à revista o direito de primeira publicação, com o trabalho simultaneamente licenciado sob a Licença Creative Commons — Attribution 4.0 International — CC BY 4.0 que permite o compartilhamento do trabalho com reconhecimento da autoria e publicação inicial nesta revista.
Autores têm autorização para assumir contratos adicionais separadamente, para distribuição não-exclusiva da versão do trabalho publicada nesta revista (ex.: publicar em repositório institucional ou como capítulo de livro), com reconhecimento de autoria e publicação inicial nesta revista.
Autores têm permissão e são estimulados a publicar e distribuir seu trabalho online (ex.: em repositórios institucionais ou na sua página pessoal) a qualquer ponto antes ou durante o processo editorial, já que isso pode gerar alterações produtivas, bem como aumentar o impacto e a citação do trabalho publicado.

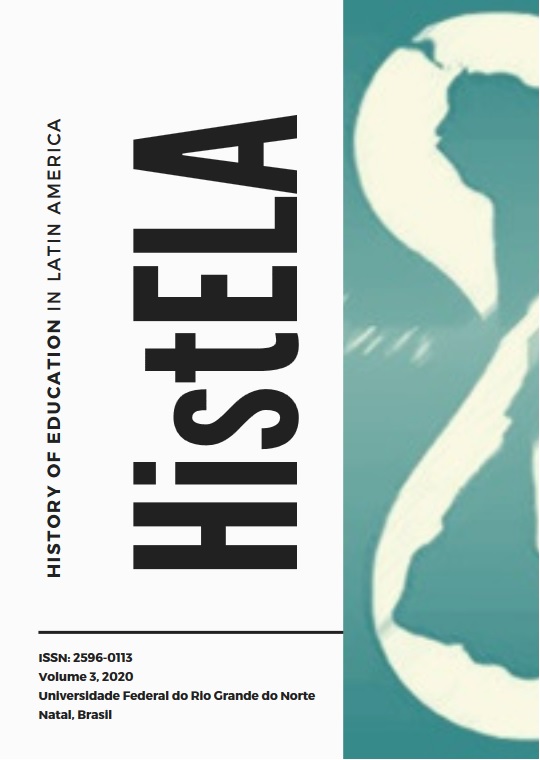
 Português (Brasil)
Português (Brasil)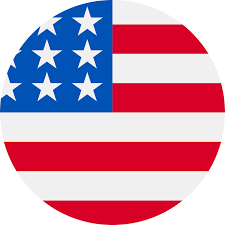 English
English Español (España)
Español (España)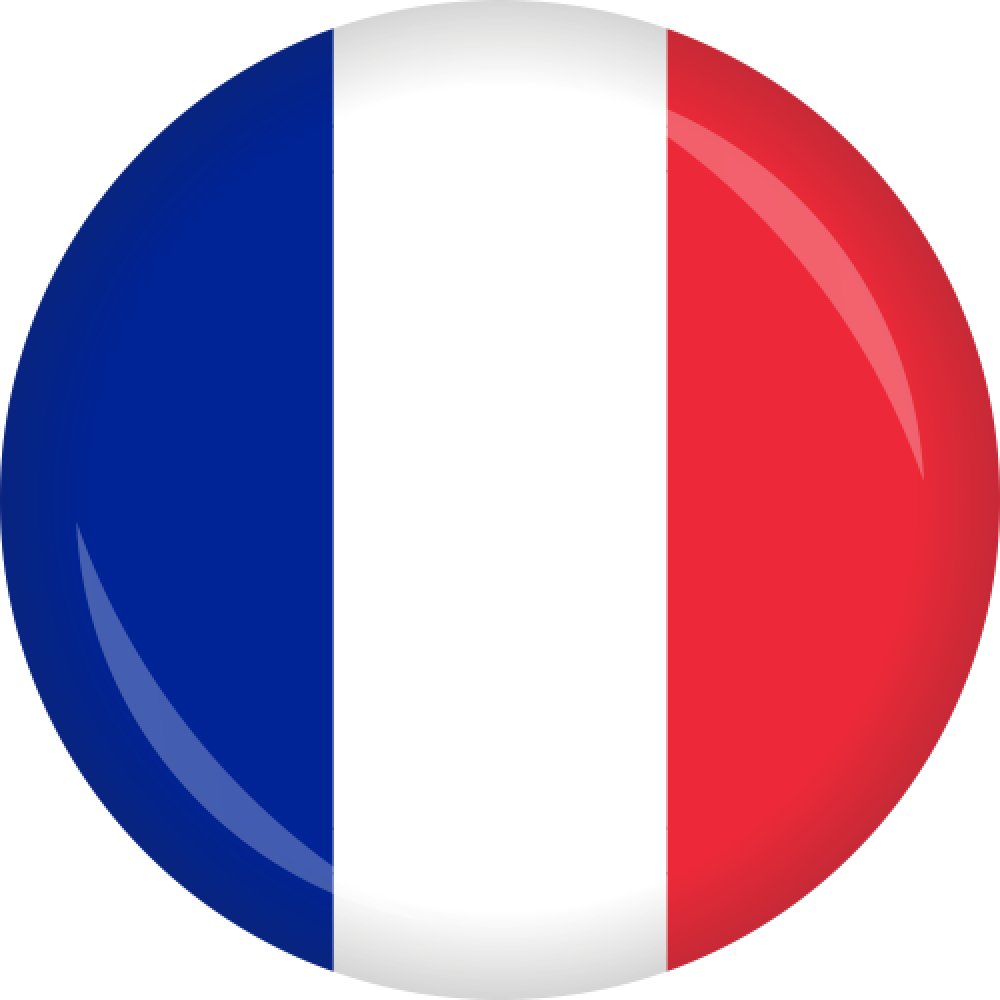 Français (Canada)
Français (Canada)